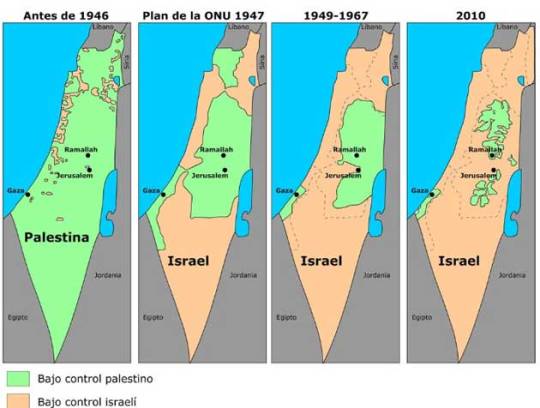O jornalista norte-americano Edward Bernays é frequentemente descrito como o homem que inventou a propaganda moderna. Sobrinho de Sigmund Freud, o pioneiro da psicanálise, foi Bernays que cunhou o termo “relações públicas” como um eufemismo para os truques de comunicação (spin) e seus enganos.
Em 1929, persuadiu feministas a promoverem cigarros para mulheres fumando no desfile da Páscoa de Nova Iorque – comportamento considerado então bizarro. Uma feminista, Ruth Booth, declarou: “Mulheres! Acendam outra tocha da liberdade! Derrubem outro tabu sexista!”
A influência de Bernays estendeu-se muito para além da publicidade. O seu maior sucesso foi papel que desempenhou em convencer o público norte-americano a aderir ao morticínio da Primeira Guerra Mundial. O segredo, disse, era a “engenharia do consentimento” das pessoas a fim de as “controlar e arregimentar de acordo com a nossa vontade sem que se deem conta disso”.
Descreveu isso como “o verdadeiro poder dominante na nossa sociedade” e chamou-lhe um “governo invisível”.
Atualmente o governo invisível nunca foi tão poderoso e tão pouco compreendido. Na minha carreira como jornalista e cineasta, nunca conheci propaganda que interviesse tanto nas nossas vidas e permanecesse incontestada.
Imaginem duas cidades.
Ambas estão sob o cerco das forças do governo do país. Ambas estão ocupadas por fanáticos que cometem atrocidades terríveis, tais como a decapitação de pessoas.
Mas existe uma diferença fundamental. Num dos cercos, os soldados do governo são descritos como libertadores por repórteres ocidentais neles incorporados, que entusiasticamente relatam as suas batalhas e ataques aéreos. Há primeiras páginas de jornais com fotos destes heroicos soldados a fazerem o V de vitória. Há escassa menção a baixas civis.
Na segunda cidade – em outro país vizinho – quase exatamente o mesmo está a acontecer. As forças do governo sitiam uma cidade controlada pela mesma raça de fanáticos.
A diferença é que esses fanáticos são apoiados, financiados e armados por “nós” – Estados Unidos e Grã-Bretanha. Eles dispõem até de um centro de media que é financiado pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha.
Outra diferença é que os soldados do governo que mantêm esta cidade sob cerco são os maus, condenados por agredir e bombardear a cidade – o que é exatamente o que os bons soldados fazem na primeira cidade.
Faz confusão? Na verdade não. Tal é o duplo critério básico que é a essência da propaganda. Refiro-me, naturalmente, ao cerco atual da cidade de Mossul pelas forças do governo do Iraque, que são apoiadas pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha e ao cerco de Alepo pelas forças do governo da Síria, apoiados pela Rússia. Um é bom; o outro é mau.
O que raramente se informa é que ambas as cidades não teriam sido ocupadas por fanáticos e devastadas pela guerra se a Grã-Bretanha e os Estados Unidos não tivessem invadido o Iraque em 2003. Esse empreendimento criminoso foi lançado sob mentiras notavelmente semelhantes à propaganda que agora distorce a nossa compreensão da guerra civil na Síria.
Sem o rufar dessa propaganda apresentada como notícia o monstruoso Daesh, a Al-Qaida, a al-Nusra e o resto da gangue jihadista poderia não existir, e o povo da Síria poderia não estar hoje a lutar pela sua vida.
Alguns podem lembrar, em 2003, uma sucessão de repórteres da BBC a voltarem-se para a câmara e a dizer-nos que Blair fora “vingado” pelo que acabou por ser o crime do século. As redes de televisão norte-americanas produziram a mesma validação para George W. Bush. A Fox News foi buscar Henry Kissinger para apoiar as falsificações de Colin Powell.
No mesmo ano, logo após a invasão, filmei uma entrevista em Washington com Charles Lewis, o famoso jornalista de investigação americano. Perguntei-lhe: “O que teria acontecido se os meios de comunicação mais livres do mundo tivessem seriamente contestado o que acabou por ser crua propaganda?”
Respondeu que se os jornalistas tivessem feito seu trabalho, “há uma muito, muito boa probabilidade de que não teríamos ido para a guerra no Iraque”.
Foi uma declaração chocante, e apoiada por outros jornalistas famosos a quem coloquei a mesma pergunta – Dan Rather da CBS, David Rose do Observer e jornalistas e produtores da BBC, que preferiram o anonimato.
Por outras palavras, se os jornalistas tivessem feito o seu trabalho, se tivessem contestado e investigado a propaganda ao invés de a amplificar, centenas de milhares de homens, mulheres e crianças estariam vivas hoje, e não haveria ISIS nem o cerco de Alepo ou Mossul.
Não teria havido nenhuma atrocidade no metro de Londres em 7 de Julho de 2005. Não teria havido nenhuma fuga de milhões de refugiados; não haveria acampamentos miseráveis.
Quando a atrocidade terrorista de Novembro último aconteceu em Paris, o presidente François Hollande enviou imediatamente aviões para bombardear a Síria – e mais terrorismo seguiu-se, como era de prever, o resultado da fanfarronada de Hollande acerca de a França estar “em guerra” e não “mostrar nenhuma clemência”. Que a violência estatal e violência jihadista se alimentam mutuamente é a verdade que nenhum líder nacional tem a coragem de exprimir.
“Quando a verdade é substituída pelo silêncio”, disse o dissidente soviético Yevtushenko, “o silêncio é uma mentira.”
O ataque ao Iraque, o ataque à Líbia e o ataque à Síria aconteceram porque o governo de cada um desses países não era um fantoche do Ocidente. O cadastro de direitos humanos de um Saddam ou de um Kadhafi era irrelevante. Não obedeceram a ordens nem renunciaram ao controlo dos seus países.
O mesmo destino aguardava Slobodan Milosevic uma vez que se recusou a assinar um “acordo” que exigia a ocupação da Sérvia e a sua conversão numa economia de mercado. O seu povo foi bombardeado, e ele foi processado em Haia. Independência deste tipo é intolerável.
Como revelou a WikiLeaks, foi apenas quando o líder sírio, Bashar al-Assad, rejeitou em 2009 um oleoduto que atravessaria o seu país do Qatar para a Europa, que foi atacado.
A partir desse momento, a CIA planeou destruir o governo da Síria com fanáticos jihadistas – os mesmos fanáticos que atualmente mantêm refém o povo de Mossul e de Alepo oriental.
Por que não é isso notícia? O ex-funcionário da chancelaria britânica Carne Ross, que foi responsável pela manutenção de sanções contra o Iraque, disse-me: “Nós alimentávamos os jornalistas com factoides de inteligência higienizada, ou deixávamo-los congelados do lado de fora. Era assim que funcionava.”
O cliente medieval do Ocidente, a Arábia Saudita – à qual os EUA e a Grã-Bretanha vendem milhares de milhões de dólares em armas – está atualmente destruindo o Iêmen, um país tão pobre que, no melhor dos casos, metade das crianças são desnutridas.
Procure no YouTube e verá o tipo de bombas maciças – “nossas” bombas – que os sauditas usam contra aldeias miseráveis e contra casamentos e funerais.
As explosões parecem pequenas bombas atômicas. Os apontadores de bombards na Arábia Saudita trabalham lado a lado com os oficiais britânicos. Este facto não está no noticiário da noite.
A propaganda é mais eficaz quando o nosso consentimento é engendrado por gente com uma boa educação – Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia – e com carreiras na BBC, The Guardian, The New York Times, The Washington Post.
Estas organizações são conhecidos como os media liberais. Apresentam-se como esclarecidos, tribunas progressistas do espírito moral (zeitgeist) da época. São anti-racistas, pró-feministas e pró-LGBT.
E amam a guerra.
Enquanto falam em defesa do feminismo, apoiam guerras de rapina que negam os direitos de inúmeras mulheres, incluindo o direito à vida.
Em 2011 a Líbia, então um estado moderno, foi destruída com o pretexto de que Muammar Kadhafi estava prestes a cometer genocídio contra o seu próprio povo. Foi uma notícia incessantemente repetida; mas não existia qualquer prova. Era uma mentira.
Na verdade, a Grã-Bretanha, Europa e os Estados Unidos queriam aquilo a que gostam de chamar “mudança de regime” na Líbia, o maior produtor de petróleo da África. A influência de Kadhafi no continente e, acima de tudo, a sua independência eram intoleráveis.
Assim, ele foi assassinado com uma faca no traseiro por fanáticos apoiados pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Hillary Clinton aplaudiu a sua morte horrível diante das câmaras, declarando: “Viemos, vimos, ele morreu!”
A destruição da Líbia foi um triunfo dos media. À medida que os tambores de guerra eram rufados, Jonathan Freedland escrevia no Guardian: ”Embora os riscos sejam muito reais, a necessidade de intervenção continua a ser forte.”
Intervenção – uma palavra polida, benigna, utilizada pelo Guardian, cujo significado real, para a Líbia, foi a morte e destruição.
De acordo com os seus próprios registros, a OTAN lançou 9.700 “missões de ataque” contra a Líbia, das quais mais de um terço foram apontadas a alvos civis. Incluíam mísseis com ogivas de urânio. Olhem para as fotografias dos escombros de Misurata e Sirte, e as valas comuns identificadas pela Cruz Vermelha. O relatório da UNICEF sobre as crianças mortas diz, “a maioria [delas] com idade inferior a dez anos”.
Como consequência direta, Sirte tornou-se a capital do Daesh.
A Ucrânia é outro triunfo dos media. Jornais liberais respeitáveis, como o New York Times, o Washington Post e The Guardian, e emissoras tradicionais, como a BBC, NBC, CBS, CNN têm desempenhado um papel fundamental no condicionamento dos seus telespectadores para aceitar uma nova e perigosa guerra fria.
Todos têm deturpado os acontecimentos na Ucrânia como sendo um ato perverso da Rússia quando, na verdade, o golpe na Ucrânia em 2014 foi trabalho dos Estados Unidos, ajudados pela Alemanha e pela NATO.
Esta inversão da realidade é tão difusa que a intimidação militar da Rússia por parte Washington não é notícia. É ocultada por trás de uma campanha de difamação e terror da mesma espécie daquela em que cresci durante a primeira guerra fria. Mais uma vez, os Ruskies estão a vir apanhar-nos, liderados por outro Estaline, que The Economist descreve como o diabo.
A supressão da verdade sobre a Ucrânia é um dos mais completos blackouts noticiosos que posso lembrar. Os fascistas que engendraram o golpe em Kiev são da mesma cepa que apoiou a invasão nazi da União Soviética em 1941. De todos os alarmismos acerca da ascensão do fascismo anti-semita na Europa, nunca algum líder sequer menciona os fascistas na Ucrânia – excepto Vladimir Putin, mas esse não conta.
Muitos nos media ocidentais têm trabalhado arduamente para apresentar a população étnica de língua russa da Ucrânia como estranha a seu próprio país, como agentes de Moscovo, quase nunca como ucranianos que pretendem uma federação dentro da Ucrânia e como cidadãos ucranianos resistindo a um golpe orquestrado pelo estrangeiro contra o seu governo eleito.
Há quase a alegria de uma reunião de ex-alunos entre os belicistas.
Os que rufam o tambor do Washington Post a incitar à guerra com a Rússia são os mesmos editorialistas que publicaram a mentira de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa.
Para a maior parte de nós, a campanha presidencial norte-americana é um espetáculo midiático coisas esquisitas, em que Donald Trump é o arqui-vilão.
Mas Trump é odiado por aqueles com poder nos Estados Unidos por razões que pouco têm a ver com os seus comportamento e opiniões obnóxias. Para o governo invisível em Washington, o imprevisível Trump é um obstáculo para o projeto da América para o século 21.
Este é manter o domínio dos Estados Unidos, subjugar a Rússia e, se possível, a China.
Para os militaristas em Washington, o verdadeiro problema com Trump é que, nos seus momentos de lucidez, ele parece não querer uma guerra com a Rússia; quer dialogar com o presidente russo, não combatê-lo; diz que quer dialogar com o presidente da China.
No primeiro debate com Hillary Clinton, Trump prometeu não ser o primeiro a introduzir armas nucleares num conflito. Afirmou: “Eu certamente não faria o primeiro ataque. Uma vez que a alternativa nuclear se verifica, está tudo acabado”. Isso não foi notícia.
Será que ele realmente quis dizer isso? Quem sabe? Muitas vezes ele contradiz-se. Mas o que está claro é que Trump é considerado uma séria ameaça ao status quo mantido pela vasta máquina de segurança nacional que dirige os Estados Unidos, pouco importando quem está na Casa Branca.
A CIA quer vê-lo derrotado. O Pentágono quer vê-lo derrotado. Os media querem vê-lo derrotado. Mesmo o seu próprio partido quer vê-lo derrotado. Ele é uma ameaça para os governantes do mundo – ao contrário de Clinton, que não deixou nenhuma dúvida de que está preparada para ir para a guerra com armas nucleares contra a Rússia e a China.
Clinton tem cabedal para isso, como muitas vezes se gaba. Na verdade, o seu registro é comprovado. Como senadora, apoiou o banho de sangue no Iraque. Quando concorreu contra Obama em 2008 ameaçou “obliterar totalmente” o Irão. Como secretária de Estado, foi conivente com a destruição de governos na Líbia e em Honduras e pôs em marcha o assédio da China.
Ela já se comprometeu a apoiar um No Fly Zone (interdição de voo) na Síria – uma provocação direta para a guerra com a Rússia. Clinton pode muito bem tornar-se a mais perigosa presidente dos Estados Unidos de toda a minha vida – uma distinção para a qual a concorrência é feroz.
Sem um fiapo de prova, Clinton pôs-se a acusar a Rússia de apoiar Trump e de ter hackeado os seus emails. Divulgados pela WikiLeaks, esses emails revelam que tudo que Clinton diz em privado, em discursos e “palestras” compradas pelos ricos e poderosos, é exatamente o oposto do que ela diz publicamente.
Por isso é tão importante silenciar e ameaçar furiosamente Julian Assange. Como editor da WikiLeaks, Assange conhece a verdade. E deixem-me esclarecer desde já e tranquilizar os muitos que se preocupam: Assange está bem; e a WikiLeaks está operando a pleno vapor.
Está hoje em curso a maior acumulação de forças lideradas pelos EUA desde a Segunda Guerra Mundial – no Cáucaso e na Europa Oriental, na fronteira com a Rússia, na Ásia e no Pacífico, onde o alvo é a China.
Tenha isso em mente quando o circo da eleição presidencial chegar ao seu final em 8 de Novembro. Se o vencedor for Clinton, um coro grego de patetas comentadores irá celebrar a sua coroação como um grande passo em frente para as mulheres. Nenhum vai mencionar as vítimas de Clinton: as mulheres da Síria, as mulheres do Iraque, as mulheres da Líbia. Ninguém vai mencionar os exercícios de defesa civil que estão sendo realizados na Rússia. Ninguém vai lembrar as “tochas da liberdade” de Edward Bernay.
O porta-voz de George Bush certa vez chamou aos media “facilitadores cúmplices”.
Vindo de um alto funcionário numa administração cujas mentiras, potenciadas pelos media, causaram aquele sofrimento, essa descrição é uma advertência da história.
Em 1946 o acusador público do Tribunal de Nuremberg disse acerca dos media alemães: “Antes de cada grande agressão eles iniciaram uma campanha de imprensa calculada para enfraquecer as suas vítimas e para preparar psicologicamente o povo alemão para o ataque. No sistema da propaganda, as armas mais importantes foram a imprensa diária e a rádio.”
28/Outubro/2016
O original encontra-se em www.counterpunch.org/…
Encontra-se em http://resistir.info/
A tradução de choldraboldra.blogspot.pt/… foi revista por odiario.info